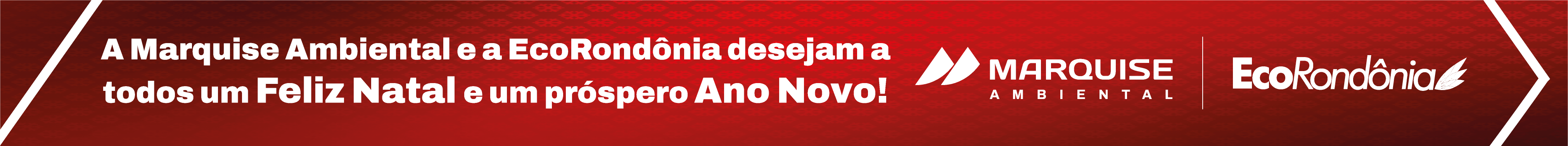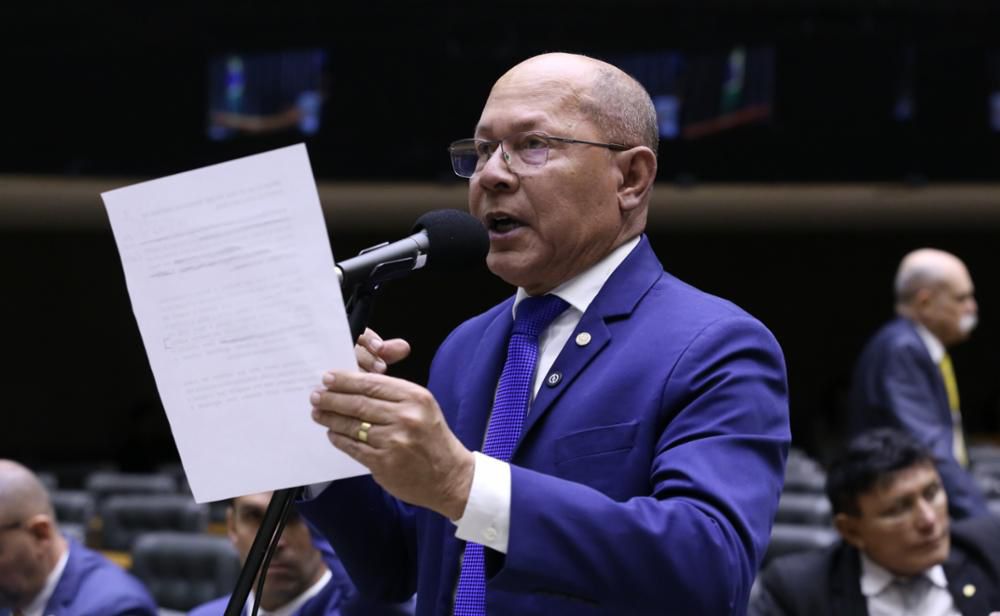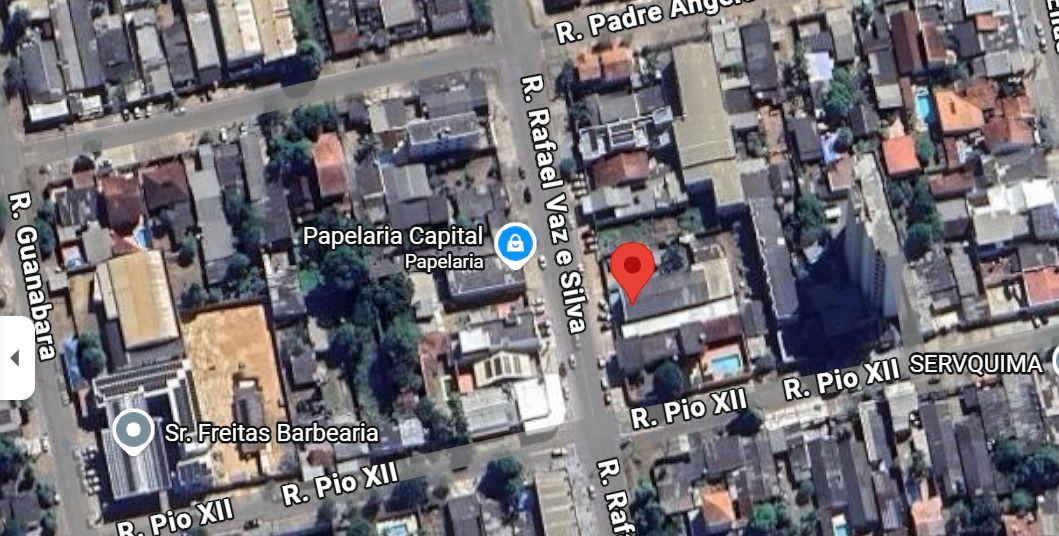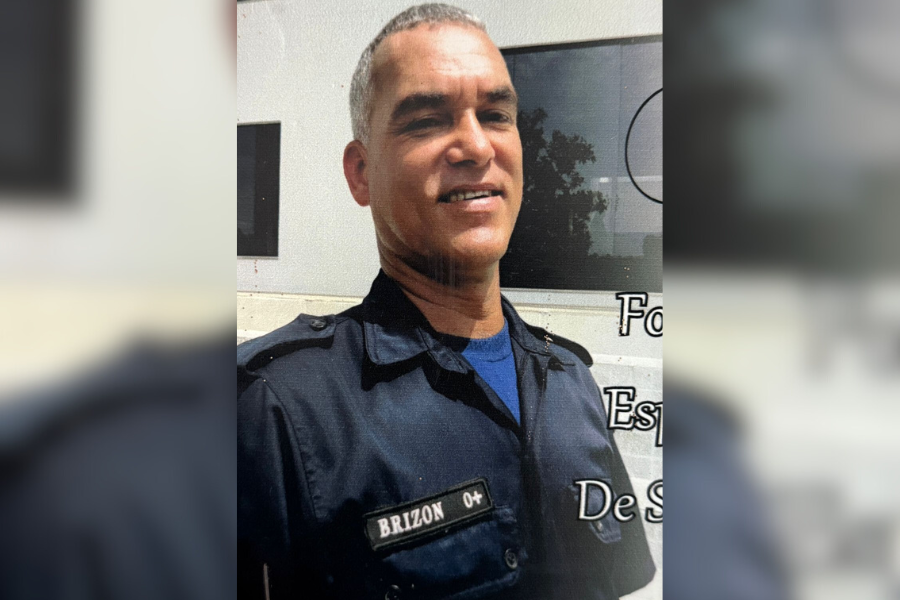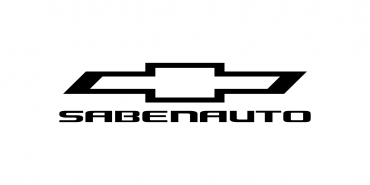ÚLTIMAS
-
IGUAL ONTEM: Previsão do tempo em Rondônia neste sábado (17) é de chuva e trovoadas
-
RECOMPENSA DE R$ 1 MIL: Tutora procura por gatinha ‘Mia’ desaparecida no Socialista
-
ITAPUÃ: Vídeo mostra ataque a tiros contra adolescente; PM detém acusado
-
EM CEREJEIRAS: Família procura adolescente de 13 anos que desapareceu após sair de casa
-
OPERAÇÃO DISSIPAR: Empresas são alvos da PF por contrabando de cigarros eletrônicos em RO
-
SOCORRIDO ÀS PRESSAS: Adolescente é atacado a tiros enquanto trabalhava em empresa
-
BÉRA FOLIA: Prefeitura publica edital com oportunidades para o comércio informal no carnaval
-
CAMPANHA NACIONAL: Ministério quer proteger crianças e adolescentes no carnaval
-
ALIADO DE MALAFAIA: Deputado Gilberto Nascimento se recusa a assinar a CPMI do Banco Master
-
PRECÁRIAS: Vereador de Chupinguaia denuncia abandono de rodovias estaduais no Cone Sul
Sem vigilância, estrada aberta na ditadura militar escoa madeira ilegal de áreas protegidas
Pobreza, desmatamento e extração ilegal de madeira e ouro margeiam rodovia na floresta

Foto: Folhapress
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Na Amazônia, nenhuma intervenção humana provoca tantas transformações como uma rodovia. E nenhuma rodovia causa tanto impacto na maior floresta tropical do mundo como a Transamazônica.
Pouco mais de 40 anos após a inauguração da estrada símbolo da ditadura militar, a reportagem percorreu quase todo o seu trecho amazônico, entre Lábrea/AM e Altamira/PA. Do total de 1.751 km, pouco menos de 10% estão asfaltados.
Tal qual ouroboros, a mítica serpente que morde o próprio rabo, a Transamazônica parece andar em círculos desde que foi aberta, sob o lema nacionalista de “Integrar para não entregar”.
Último município da rodovia, Lábrea (a 700 km em linha reta de Manaus) é uma das mais novas e destrutivas frentes de desmatamento ilegal da Amazônia, acompanhadas por grilagem e violência. A zona rural do município soma sete assassinatos por disputa agrária em dez anos, segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Em Altamira (a 450 km em linha reta de Belém), outra megaobra estatal, a hidrelétrica Belo Monte, vem aprofundando impactos negativos na rodovia, como o encurralamento de populações indígenas e a aceleração do desmatamento. A ameaça de violência é permanente: em 13 de outubro passado, o secretário municipal do Meio Ambiente, Luiz Araújo, foi assassinado em circunstâncias ainda não esclarecidas.
Entre as duas pontas da rodovia, predominam na paisagem pastos subutilizados, intercalados por unidades de conservação e terras indígenas sob pressão de madeireiros e garimpeiros. As grandes queimadas continuam no período seco, e, com a exceção de urubus, é raro avistar um animal silvestre.
As cidades têm IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) abaixo da média do país e são dependentes de repasses federais. Todas sofrem de administração ineficiente, segundo o ranking de municípios (REM-F), incluindo Placas (a 691 km em linha reta de Belém), a última colocada.
A maioria sobrevive do comércio ilegal do ouro e da madeira, cujos lucros compensam os custos de extração em remotas áreas protegidas. O saque se beneficia da repressão esporádica –em duas semanas, a reportagem testemunhou apenas uma ação fiscalizatória.
“Aqui é o mundo da ilegalidade”, afirma a irmã franciscana Ângela Sauzen, que desde 1986 atua em favor de pequenos agricultores em Uruará (a 635 km em linha reta de Belém), onde até o prefeito é madeireiro. “Quem pode mais, domina.”
Com os cortes orçamentários, órgãos como a Funai (Fundação Nacional do Índio) e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) vêm diminuindo as suas ações na região. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tem 52 servidores para cuidar de uma área pouco maior que o Paraná: 20,7 milhões de hectares, divididos em 21 unidades de conservação.
“Na Amazônia, o fiscal está em extinção, é uma espécie rara”, diz o chefe da Reserva Extrativista Médio Purus, José Maria de Oliveira, que dispõe de dois servidores para atender a uma área de 604 mil hectares (cerca de quatro vezes a área da cidade de São Paulo), 600 km de rios e 6.000 moradores.
Em meio ao desmatamento crescente, uma constatação comum de índios e fazendeiros é o aumento da temperatura e a diminuição das chuvas. “O sol está mais forte” foi uma das frases mais ouvidas ao longo estrada.
É uma época de extremos climáticos. Em Humaitá (distante 590 km em linha reta de Manaus), o rio Madeira registrou neste ano sua terceira pior seca desde o início da medição, em 1967. Dois anos atrás, a cidade foi submersa na maior enchente da história.

Mas a estrada também reserva surpresas mais agradáveis. À beira do rio Maici, os misteriosos índios pirahãs mantêm alguns dos mesmos hábitos relatados no primeiro contato com os brancos, há três séculos, e se recusam a aprender português.
Em Medicilândia (a cerca de 540 km de Belém, em linha reta), maior produtor de cacau do país, uma cooperativa que fabrica chocolate viu as perspectivas melhorarem após a recente pavimentação da Transamazônica até Altamira –uma viagem de 90 km que, antes disso, podia durar quatro dias por causa dos atoleiros.
Em reservas extrativistas, comunidades ribeirinhas têm superado os desafios logísticos e de financiamento para viver da exploração da floresta em pé por meio da castanha-do-pará e de outros produtos.
“A gente tem uma população que conseguiu construir coisas boas aqui”, diz Lucimar Souza, coordenadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) para a Transamazônica. “Se os projetos dialogassem com as pessoas da região, teríamos melhores resultados.”

Última parada da rodovia sedia nova frente de expansão do desmatamento na Amazônia
Bode Velho, Bode Preto e Bode Augusto. Bastam alguns minutos de conversa em Lábrea, a última cidade da Transamazônica, a 700 km em linha reta de Manaus, para que ao menos um dos irmãos apareça na história.
Não é para menos. Filhos de um seringueiro cearense, são um caso raro de ascensão social na região. Atualmente, estão envolvidos em quase tudo na cidade, uma das mais novas e devastadoras fronteiras de desmatamento na Amazônia.
Empresário, Aurivaldo de Almeida, 58, o Bode Velho, iniciou a fortuna da família com uma pequena barca no rio Purus. Hoje, é dono, entre outros negócios, de uma loja de departamento de tamanho desproporcional ao município de 44 mil habitantes e de quase todos os postos (cobra R$ 4,98 pelo litro da gasolina, o preço mais caro da rodovia).
Fazendeiro, Antonio, 51, o Bode Preto, já chegou a ter, com os irmãos, todas as terras que margeiam a Transamazônica entre o casco urbano e o km 30, num total de 17 mil hectares (cerca de cem parques Ibirapuera). Hoje, possui o único frigorífico da cidade e três fazendas.
Na entrada de uma dessas fazendas, à beira da rodovia, ele pendurou o barco que deu início à fortuna da família, em imagem que lembra o avião do traficante colombiano Pablo Escobar no portão da sua fazenda Nápoles.
Político, Bode Augusto (PP), 49, foi reeleito vereador com a maior votação do município. Também tem uma pequena empresa, responsável pela colocação de meio-fio nos recém-concluídos 16 km de asfalto da Transamazônica, na entrada do casco urbano. É o único trecho pavimentado dos 215 km até Humaitá (AM), a próxima cidade.
“Se procurar a gente pelo nome, dificilmente vai achar. Mas, se perguntar onde mora o Bode Preto, todo mundo sabe”, diz o irmão fazendeiro, na varanda de sua ampla casa, construída na beira da Transamazônica e famosa pela imensa estátua de são Jorge no jardim.

MAIOR QUE O RJ
Na última década, a cidade dos Bodes se tornou uma grande frente de desmatamento, principalmente por causa da pecuária. Do início do ano até 9 de outubro, Lábrea havia registrado 1.601 focos de incêndio, ou 16,4% das ocorrências no Amazonas nesse período, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais). É o município com mais queimadas neste Estado e o sexto do país.
O fogo é usado principalmente para facilitar a substituição de florestas por pastagens e para “limpar” áreas já abertas. Nos dias em que a reportagem visitou Lábrea, no final de setembro, havia esses dois tipos de queimada ao longo da Transamazônica.
Somente entre 2014 e o ano passado, foram desmatados 242,6 km² no município, o equivalente a 153 parques Ibirapuera –aumento de 79% em relação ao período anterior. O levantamento é do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) feito a pedido, a partir de dados do Inpe.
Juntos, Lábrea, Manicoré e Apuí –outros dois municípios do sul do Amazonas também cortados pela Transamazônica– respondem por 59% do desmatamento do Estado nesse período.
A região é uma das que mais contribuíam para o aumento de 24% na taxa anual de desmatamento da Amazônia no período 2014-2015. É o maior avanço desde 2011.
Pecuarista, Bode Preto nega responsabilidade pelos números ruins. Ele alega que comprou as fazendas já formadas –incluindo uma área cujo pasto beira o rio Mari, desrespeitando a mata ciliar– e aponta a distante região sul de Lábrea como o foco das queimadas e desmatamento.
O irmão Bode Augusto operava uma serraria, mas afirma que era em pequena escala e que fechou após receber multas sucessivas do Ibama, que considera abusivas. Ele admite que usava madeira ilegal, mas disse que empregava “14 pais de família”.
As imagens de satélite mostram que, de fato, é no distante sul de Lábrea, e não no entorno da cidade, que o desmatamento se concentra, embora haja muitos focos ao longo da Transamazônica. Lábrea é o décimo maior município do país em área –são 68 mil km², pouco menor do que os Estados do Rio de Janeiro e de Alagoas somados. No imenso território, há até índios isolados.
CONFLITOS
O sul de Lábrea fica na área de influência da BR-364, em trecho que liga Rio Branco (AC) a Porto Velho (RO) e tem sido palco de conflitos fundiários, com com sete assassinatos desde 2006, segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT).
Perto da cidade, Bode Preto tem uma disputa antiga em torno dos limites de sua fazenda com a Terra Indígena Caititu, dos índios apurinãs. “Esses índios, caboclos velhos, só querem saber de cachaça. Não fazem outra coisa, não produzem nada”, diz.
Para conter o desmatamento e proteger as comunidades tradicionais da grilagem, o governo Lula criou, em 2008, duas reservas extrativistas, a Ituxi e a Médio Purus.
Passados oito anos, líderes locais reclamam que o governo não cumpriu a promessa de criar escolas e postos de saúde e de apoiar atividades econômicas, como a produção de farinha e a extração de produtos da floresta.
“Muita gente está saindo de lá para morar na cidade. Éramos nove irmãos, agora só sobrei eu”, diz Irismar Duarte, 33, presidente da associação de moradores da reserva Ituxi. “Quando a gente lutava pela Resex [reserva], acreditava que ia ter mudança social, mas a vida ficou tão difícil que as famílias foram saindo.”
Além de famílias extrativistas, a cidade também tem atraído parte dos 10 mil indígenas da região. Com a escassez de empregos formais, para sobreviver, muitos acabam dependendo de programas sociais, como o Bolsa Família.
Inchada, a cidade sofre com a falta de estrutura urbana. A cobertura de esgoto é de apenas 14%, e muitas casas são construídas em palafitas sobre a água fétida, povoada por urubus. Um dos reflexos é a malária, endêmica na área urbana.
“Lábrea nunca teve muito potencial”, diz Bode Preto, sobre a economia local. “Aqui gira em torno do pescado, da prefeitura. Já tiraram muita madeira desse Purus aí, mas não pode mais tirar. Pra ser sincero, fico quase sem resposta pra ti.”
RAIO-X
Cidade: Lábrea (AM)
Ranking de Eficiência (REM-F): 5.191º (0,261) Ineficiente
IDHM (2010)*: 0,531 (baixo)
Área desmatada (km²): 3.859 (5,5% do total)

300 anos após contato, índios pirahãs ainda resistem a aprender português
À primeira vista, parece um ritual de pobreza. O ônibus estaciona na lanchonete da Sula, a 90 km de Humaitá/AM, e logo mulheres e crianças pirahãs, descalças e em roupas puídas, se aglomeram em torno dos passageiros. Quando têm sorte, saem carregadas com sacos de salgadinho e garrafas de refrigerante.
Mas basta seguir o grupo até o acampamento à beira do rio Maici para entrar em um mundo à parte da rodovia. Sobre a canoa esculpida num tronco único, repousam arco e flecha. Dentro da água transparente, uma Bíblia aberta é folheada lentamente pela correnteza.
No fogo aceso no chão arenoso, peixes cozidos inteiros e sem tempero. As moradias se resumem a um teto de palha sustentado por paus, e abrigam bichos de estimação como macaco e gambá.
Mas o que mais impressiona é ninguém falar português, apesar de três séculos desde o primeiro contato com o branco. A única língua ali é a melódica pirahã, que não guarda parentesco com nenhum outro idioma vivo do planeta, só é falada no tempo presente e não inclui números nem cores.
A singularidade dos pirahãs tem sido descrita principalmente pelo linguista norte-americano Daniel Everett. Para ele, trata-se da etnia amazônica que mais resistiu às mudanças trazidas pelo homem branco.
A história pessoal de Everett corrobora a afirmação. Em 1977, acompanhado da mulher e de três filhos pequenos, ele se mudou para uma aldeia pirahã como missionário cristão. Nas três décadas de convívio, além de não conseguir converter ninguém, ele mesmo se tornou ateu e passou a se dedicar apenas à carreira acadêmica.
Em 2005, Everett provocou um terremoto no meio acadêmico ao usar a língua pirahã para contestar a gramática universal, teoria formulada por Noam Chomsky (MIT), o linguista mais renomado do mundo.
Em artigo, Everett argumentou que a gramática pirahã não se encaixa na teoria universalista de Chomsky, pela qual todas as línguas têm um conjunto de características em comum.
A principal ausência na língua pirahã seria a recursividade, que consiste em colocar uma frase dentro da outra indefinidamente, combinando pensamentos distintos. Um exemplo: as frases “O cachorro entrou na casa” e “o cachorro está molhado” se tornam “O cachorro que está molhado entrou na casa”.
A celeuma extrapolou os meios acadêmicos após Everett publicar, em 2008, o livro “Don’t Sleep, There are Snakes” (não durma, há cobras). A obra mistura seus estudos com memórias da vida na Amazônia e já foi traduzida para sete idiomas, mas ainda não há versão em português.
O interesse pelos pirahãs acaba de ser renovado. Em agosto, o aclamado escritor americano Tom Wolfe publicou o livro “The Kingdom of Speech” (o reino do discurso) com dois capítulos dedicados à etnia e a Everett, a quem credita ser o autor do mais importante estudo sobre a origem da linguagem humana.
TUDO COMO É
Com a exceção de visitas esporádicas de pesquisadores, o acirrado debate em nada mudou a rotina dos pirahãs, estimados em cerca de 700 pessoas. Seminômades, continuam vivendo ao longo do ano pelas margens do Maici, quase todo localizado dentro de sua terra indígena, demarcada em 1996, com a ajuda de Everett.
No lugar de missionários, eles agora resistem aos professores do município de Humaitá/AM, que tentam, sem sucesso ensinar o português.
O pouco interesse pela cultura do branco se concentra no uso de alguns utensílios, como panelas, e em alimentos de má qualidade, que eles adoram. O uso do dinheiro é limitado pela ausência do conceito de números –no livro, Everett narra o fracasso em ensinar a soma de 1 + 1 ao longo de oito meses de aula.

O trecho do Maici atravessado pela Transamazônica está fora da demarcação, mas o limite legal é ignorado pelos indígenas, que continuam perambulando em toda a extensão do rio, como fazem há séculos. “Estamos aqui antes da ponte”, explicou o pirahã Hiahuai, por meio de uma tradutora.
O seu grupo, de cerca de 40 pessoas, costuma passar alguns meses por ano na beira da rodovia, revezando o lugar com outros pontos do rio. A aldeia principal fica a algumas horas de barco.
O convívio na beira da estrada nem sempre é pacífico. Um sitiante, irritado com a perambulação dos pirahãs por suas terras, lidera um abaixo-assinado para expulsá-los.
Proprietária de um restaurante, dona Dominga se recusou a assinar a petição e diz que não se importa com a visita dos pirahãs, a quem costuma dar pão velho. Ao comparar com outras etnias vizinhas, que moram em casas e são bilíngues, ela repete um bordão da região: “Eles é que são índios de verdade”.
RAIO-X
Cidade: Humaitá (AM)
Ranking de Eficiência (REM-F): 5.119º (0,282) Ineficiente
IDHM (2010)*: 0,605 (médio)
Área desmatada (km²): 728 (2,2%)

Garimpo ilegal faz brotar até churrascaria em torno de aeroporto à beira da rodovia
Num dos trechos mais isolados da Transamazônica, o km 180, no município de Itaituba (a cerca de 890 km de Belém, em linha reta), parece miragem: três avionetas estacionadas a poucos metros da rodovia, hotel, churrascaria, açougue, borracharia, posto informal de combustível e um minimercado. Tudo para atender o “amigo garimpeiro”, como anuncia a placa na entrada.
O ponto está estrategicamente localizado entre Itaituba e Jacareacanga (em linha reta, distante 1.158 km da capital paraense), região com mais de meio século de intensa busca pelo ouro. Dali, os aviões saem carregados de garimpeiros, combustível, maquinários. Descem em pistas clandestinas abertas no meio da floresta repleta de histórias de acidentes e de quase acidentes aéreos.
A chegada ao hotel/churrascaria, no final da tarde, desperta desconfiança. “Vocês são policiais federais?”, pergunta o garimpeiro Francisco (nome fictício), enquanto sentava à mesa coberta por uma toalha de plástico. “Aqui, quando tem branco como vocês, a gente sempre acha que é PF.”
Passada a suspeita, Francisco, de camiseta regata, chapéu camuflado de pescador e uma chave pendurada no pescoço, se anima a contar a sua história. Com 47 anos, disse que começou no garimpo aos 11. Não recolhe aposentadoria, mas guarda algum dinheiro em conta da Caixa Econômica. Não tem mulher ou filhos e já se arriscou na Bolívia, em Rondônia e na Guiana, mas diz que o seu lugar é o Pará.
“A cultura daqui é o ouro. Aqui, não tem agricultura de grão. A riqueza do Pará é o ouro”, assegura, ao mostrar pepitas de ouro envoltas num pano, resultado da recém-encerrada temporada no garimpo.
Às vezes, é preciso parar a conversa para entender o vocabulário específico. Carote é o galão de 60 litros de combustível que, no garimpo, tem valor de troca, como o ouro. Bamburrar é encontrar uma grande quantidade do mineral. PC, a escavadeira mais usada no garimpo.
Algumas cervejas mais tarde, ele se anima a convidar o repórter a investir numa PC de R$ 500 mil. “Tenho um monte de terra pesquisada, sei onde está o ouro. Todo mês, te entrego 1 kg de ouro, dá para pagar as prestações.”
Na “conta de açougueiro”, o negócio é tentador. Ao preço de R$ 120 o grama, 1 kg de ouro renderia R$ 120 mil, enquanto a prestação mensal do PC sai, em média, R$ 27 mil, afirma Francisco.
Ele ainda oferece uma serra de ametista antes de marcar uma nova conversa no dia seguinte. É quase meia-noite, e cada um se recolhe em seu quarto do hotel Amigo Fazendeiro, que conta com ar-condicionado, banho privado e ainda oferece internet a R$ 5/hora.

TRANSIÇÃO INCERTA
Medir o tamanho do negócio é impossível, afirma Carlos Botelho da Costa, superintendente no Pará do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral). Não há estimativas confiáveis, explica, de quantos garimpeiros existem no Estado nem da quantidade de ouro e de outros minerais extraída ilegalmente, mas o volume é expressivo a ponto de sustentar Itaituba, de 98 mil habitantes, conhecida como a “cidade pepita”.
Costa compara fiscalizar o garimpo a “enxugar gelo”, dadas as dimensões do Pará. Ele defende uma reforma na legislação para facilitar a legalização. “O fato é que hoje não tem como arbitrarmos a atividade. Isso gera evasão fiscal e danos ambientais.”
Para o antropólogo do Museu Goeldi (Belém) Roberto Araújo Santos, Itaituba está passando por uma fase de transição com a chegada do agronegócio e das concessões para grandes empresas mineradoras.
Ele cita ainda a possibilidade, por ora adiada, da construção da hidrelétrica São Luiz do Tapajós, que sofre forte resistência dos índios mundurucus e de ambientalistas.


Às margens do rio Tapajós, a cidade vem se transformando num entreposto da produção de soja de Mato Grosso, que chega à cidade pela BR-163 e é embarcada rumo ao exterior em grandes terminais.
Santos, no entanto, afirma que o garimpo ilegal continuará tendo importância no futuro próximo devido à falta de alternativas e à pouca tradição de agricultura familiar, ao contrário de regiões mais próximas, como a zona cacaueira perto de Altamira.
Na manhã do dia seguinte, Francisco já havia partido de madrugada rumo a Itaituba, de carona. Com ele, a chance de este repórter bamburrar.
RAIO-X
Cidade: Itaituba (PA)
Ranking de Eficiência (REM-F): 4.857º (0,326) Ineficiente
IDHM (2010)*: 0,640 (médio)
Área desmatada (km²): 5.357 (8,6%)
Cidade: Jacareacanga (PA)
Ranking de Eficiência (REM-F): 0,505 (baixo)
IDHM (2010)*: N/D
Área desmatada (km²): 1.481 (2,8%)

Madeireiros aproveitam falhas de fiscalização e abrem 1.359 km de estradas em terra indígena
Vítima da própria beleza, o ipê é como um alfinete colorido no palheiro. Em sobrevoos e incursões por florestas protegidas, os madeireiros facilmente identificam a floração da árvore mais cobiçada da Amazônia.
Os passos seguintes são rasgar a mata com estradas, derrubar as árvores previamente marcadas e transportá-las para as dezenas de madeireiras instaladas ao longo da Transamazônica, onde são legalizadas por meio de documentos falsos de guia florestal.
O processo é custoso, mas o lucro obtido com o ipê viabiliza economicamente a extração ilegal de madeira em áreas remotas –fenômeno parecido com o ciclo do mogno, nos anos 1980 e 1990.
No entorno da rodovia, nenhuma área tem sido tão saqueada como a Terra Indígena Cachoeira Seca, habitada pelos índios araras e dentro da área de influência da usina hidrelétrica Belo Monte.

Desde 2011, os madeireiros abriram 1.359 km de ramais (estradas) no território arara, dos quais 258 km nos primeiros nove meses deste ano, segundo levantamento do ISA (Instituto Socioambiental) realizado por meio de imagens de satélite e sobrevoos.
A extração continua apesar do decreto de demarcação assinado em abril pela então presidente Dilma Rousseff, após mais de três décadas de tramitação. A homologação era uma das condicionantes para a operação da Belo Monte.
Na prática, nada mudou. Acompanhada de índios araras, o jornal percorreu a principal via de acesso, 80 km que ligam a Transamazônica a um porto no rio Iriri, dos quais cerca de metade está dentro de Cachoeira Seca.
No caminho, a reportagem viu um caminhão carregado de toras em plena luz do dia. Além disso, esse trecho da terra indígena está totalmente desmatado e ocupado por cerca de mil famílias de colonos –alguns assentados pelo Incra– e fazendeiros. Ainda não há data para a retirada deles.
O PBA (Plano Básico Ambiental) prevê a construção de dois postos de vigilância da Funai pela Norte Energia, responsável pela Belo Monte. Em nota, a concessionária informou que adiou as obras indefinidamente após seus funcionários terem sido ameaçados por “não índios”, em 2013.
“Os acessos aos locais de obra foram bloqueados, e os manifestantes também ameaçaram incendiar os equipamentos, caso o trabalho prosseguisse”, explicou a Norte Energia, em nota.
“Já fui a Brasília reclamar sobre isso aí, ninguém fala nada, ninguém vai [à terra indígena]”, diz o cacique da Cachoeira Seca, Mobu-odo Arara, 33. “Ministério Público, Polícia Federal, Ibama, não temos mais pra quem reclamar.”
Mobu-odo tinha apenas dois anos quando o seu subgrupo, de 180 pessoas, foi contatado pela Funai, em 1987. No espaço de uma geração, eles foram cercados pelo homem branco. “Não estamos livres, não podemos andar na nossa própria reserva.”
O Ibama afirma que realizou duas ações de fiscalização em Cachoeira Seca neste ano, mas que pouco pode fazer por causa da autorização de vários planos de manejo no entorno. É por meio desses créditos que os madeireiros esquentam a extração ilegal, segundo investigações do Ibama e de entidades ambientais, como o Greenpeace.
Para o cacique, o processo se acelerou nos últimos anos por causa das pessoas atraídas pela região por Belo Monte, mas que não conseguiram emprego. “Vão caçar terra de índio, dos ribeirinhos. Onde tem terra, estão se metendo.”
As imagens de satélite sugerem que a avaliação do cacique está correta: parcialmente tomada por colonos, Cachoeira Seca é a terra indígena onde mais houve desmatamento de 2012 a 2015, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), com 6% da cobertura florestal perdida.
Mas o aumento no desmatamento não se restringe ao território arara. De janeiro a setembro, já foram desmatados 188 km² de terras indígenas na Amazônia, uma área 180% maior que a devastada durante todo o ano passado, segundo a Funai.
FISCALIZAÇÃO
Apesar da intensa atividade madeireira ao longo dos 340 km entre as cidades paraenses de Altamira (a 457 km em linha reta de Belém) e Rurópolis (distante 772 km, em linha reta, da capital), a fiscalização é apenas esporádica devido aos cortes contínuos no orçamento do Ibama.
Em 28 de setembro, a reportagem acompanhou a primeira operação do órgão neste ano em Uruará (a 635 km de Belém, em linha reta). Com cerca de 43 mil habitantes, fica próxima de duas terras indígenas e tem a economia centrada na extração ilegal de madeira.
A equipe, com nove agentes do Ibama e dois PMs, planejava montar uma barreira de fiscalização em trecho de uma estrada que começa na Transamazônica e chega à Terra Indígena Arara, de outro grupo da etnia arara e contígua à Cachoeira Seca.
Nem foi preciso ir tão longe. Em apenas 15 minutos de viagem na Transamazônica, dois caminhões carregados de toras e sem documentação foram parados pelos agentes.
No caminhão maior, foram apreendidas 15 toras de ipê, com aproximadamente 36 metros cúbicos de madeira. Depois de processado no formato mais caro –placas para pisos–, o metro cúbico é exportado por cerca de R$ 6.300. O piso da ponte do Brooklyn, em Nova York, é de ipê brasileiro.
Por falta de local para armazenamento, o Ibama liberou os motoristas, que, além de autuados, foram colocados como fiéis depositários da madeira e dos caminhões.

“Juntando a questão financeira com o pouco efetivo, temos dificuldade em fiscalizar, e essa área entre Altamira e Rurópolis fica descoberta”, admite Uiratan Barroso, chefe de fiscalização do Ibama para a região, onde o foco é o combate ao desmatamento de grandes áreas. “A extração de madeira é uma prioridade secundária.”
A reportagem esteve em duas madeireiras de Uruará, mas os proprietários se recusaram a conceder entrevista. “É difícil alguém na cidade querer falar com vocês”, alertou o funcionário de uma delas, que pediu para não ser identificado.
MORATÓRIA
Para diminuir a extração ilegal, o ISA (Instituto Socioambiental) defende a moratória na exploração do ipê. “O ipê, sendo o novo mogno, viabiliza toda a extração nesta região”, afirma Jeferson Straatmann, coordenador do ISA em Altamira. “A partir do momento em que não há essa espécie tão cara, tira-se uma boa parte do financiamento.”
O Ibama reconhece a importância do ipê para a extração ilegal, mas avalia que a prioridade contra o crime é aprimorar o controle da concessão de créditos florestais em planos de manejo, uma atribuição dos governos estaduais.
O órgão tem pressionado os Estados a adotar o artigo 35 do Código Florestal, que prevê a implantação do Sistema Nacional de Gestão Florestal, no qual todas as unidades da federação devem fornecer informações como plano de manejo e quantidade de extração de madeira por hectare, facilitando a fiscalização e permitindo ao público rastrear a origem da madeira.
Na prática, porém, nenhum Estado da Amazônia se adequou ao artigo, de acordo com o Ibama. A situação é mais precária no Pará e em Mato Grosso, os principais produtores de madeira, onde o sistema nacional só é alimentado quando o produto sai do Estado.
RAIO-X
Cidade: Altamira (PA)
Ranking de Eficiência (REM-F): 4.989º (0,307) Ineficiente
IDHM (2010)*: 0,665 (médio)
Área desmatada (km²): 8.093 (5,1%)
Cidade: Uruará (PA)
Ranking de Eficiência (REM-F): 5.258º (0,203) Ineficiente
IDHM (2010)*: 0,589 (baixo)
Área desmatada (km²): 3.251 (30,1%)
Cidade: Rurópolis (PA)
Ranking de Eficiência (REM-F): 5.261º (0,201) Ineficiente
IDHM (2010)*: 0,548 (baixo)
Área desmatada (km²): 1.930 (27,5%)

Em busca de alternativas, comunidades experimentam com a produção de chocolate e mingau de babaçu
Não é só madeira, ouro e gado que circulam pela Transamazônica paraense. Sob potentes ares-condicionados, uma fábrica está transformando em chocolate parte do cacau de Medicilândia, cidade a 537 km em linha reta de Belém, o maior produtor nacional da fruta. Perto de Uruará (a 635 km de Belém, em linha reta), a castanha-do-pará já sai da floresta embalada, e pequenos agricultores complementam a renda vendendo farinha de babaçu para escolas municipais.
Com o bombom de cupuaçu como carro-chefe, a cooperativa Cacauway funciona há seis anos às margens da rodovia, em Medicilândia. Matéria-prima não falta: no ano passado, o município, que tem um dos solos mais férteis da Amazônia, produziu quase 42 mil toneladas, o triplo da segunda colocada, a mais famosa Ilhéus (BA).
Atualmente, apenas a cooperativa, com 40 sócios e 15 funcionários, fabrica chocolate na região. Os números são ainda modestos: a unidade processa cerca de 22 toneladas de cacau/ano, e a produção é vendida apenas nas seis lojas próprias espalhadas pelo Estado do Pará.
Apesar da pequena escala, o dirigente da Cacauway e ex-vereador de Medicilândia, Ademir Venturin, afirma que a cooperativa indica caminhos alternativos e mais sustentáveis para a cidade, cuja receita municipal vem quase toda de repasses (93%) e amarga o 5.245° lugar (de um total de 5.281) no ranking de eficiência da Folha (REM-F).
“Está testado: é possível garantir agricultura familiar, ter atividades que vivem harmoniosamente com o meio ambiente, gerar emprego e renda, fixar o homem no campo e oferecer resultados de cacau e chocolate com agregação de valor excelente”, afirma Venturin.
No campo ambiental, os defensores do cacau afirmam que, embora o plantio seja em áreas desmatadas, o cultivo, perene, é menos agressivo do que culturas como a cana, a fracassada aposta inicial para a região. Não há uso do fogo e, por causa da necessidade de sombreamento da planta, o reflorestamento é praticamente obrigatório.
EMBALANDO NA FLORESTA
Não é fácil chegar à comunidade Rio Novo, na Reserva Extrativista (Resex) do rio Iriri. Depois de duas horas de carro em estrada precária, são necessários outros 40 minutos de barco para chegar a um punhado de casas cercadas pela mata. É ali que, há seis anos, funciona uma miniusina de produtos da floresta, com a castanha-do-pará de carro-chefe.
O projeto, apoiado pelo ISA (Instituto Socioambiental), conseguiu contornar dois problemas históricos do extrativismo: contratos diretos com o mercado, nos quais elimina o atravessador, e o beneficiamento do produto dentro da reserva, o que gera renda na comunidade.
“Com o processamento, melhorou muito para as famílias da comunidade. Antes, era só no peixe, mas não estava dando renda porque não estavam pegando, e hoje o pessoal se sente mais à vontade com a castanha”, afirma Raimunda Rodrigues, 27, nascida e criada em Rio Novo.
Além da família de Raimunda, a miniusina emprega oito funcionários de comunidades vizinhas, que complementam a renda com Bolsa Família. A quebra da castanha é feita com a ajuda de máquinas de fazer botão adaptadas. Depois de processada, é colocada em embalagens plásticas e transportada de barco e carro até Altamira (PA), viagem de cerca de 300 km.
A reserva do rio Iriri faz parte da Terra do Meio, um conjunto de áreas protegidas contíguas que, somadas, chegam a 8,5 milhões de hectares –pouco maior do que a Áustria. A região inclui ainda três terras indígenas e o Parque Nacional da Serra do Pardo, entre outras unidades protegidas.

Para ambientalistas, a geração de renda via extrativismo ajuda a preservar a floresta ao oferecer a ribeirinhos e índios alternativas à madeira e à criação de gado. Críticos, no entanto, afirmam que a atividade é inviável pela escala pequena e pelas dificuldades de trabalho e logísticas.
MINGAU
Na cidade de Uruará funciona a sede da associação Sementes da Floresta, que reúne 22 famílias dedicadas à agricultura familiar e ao extrativismo florestal.
A pequena loja na cidade vende produtos como vela de andiroba e sabonete de cupuaçu, mas a grande aposta é o mesocarpo de babaçu, uma farinha fina de mingau.
A associação, iniciada em 2007 com 70 famílias, começou a vender o mesocarpo neste ano para entrar na merenda das escolas municipais de Uruará. No futuro próximo, espera expandir para outras cidades –é a esperança para aumentar a escala da comercialização.
Outra iniciativa é fazer, com recursos próprios, o reflorestamento com algumas das espécies mais cobiçadas pelos madeireiros. “Temos a visão de que, se ninguém botar a mão no meio e reflorestar essas árvores, o ipê, a andiroba e o mogno deixarão de existir”, diz João da Silva Filho, presidente da associação.
“Estamos nadando contra a enxurrada do desmatamento, é difícil”, afirma a irmã franciscana Ângela Sauzen, uma das idealizadoras do projeto. “Muita gente nos chama de loucos, uns com raiva, outros com inveja. Estamos vendo resultados, mas é preciso muito esforço.”
RAIO-X
Cidade: Medicilândia (PA)
Ranking de Eficiência (REM-F): 5.245º (0,223) Ineficiente
IDHM (2010)*: 0,582 (baixo)
Área desmatada (km²): 2.066 (24,9%)
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!